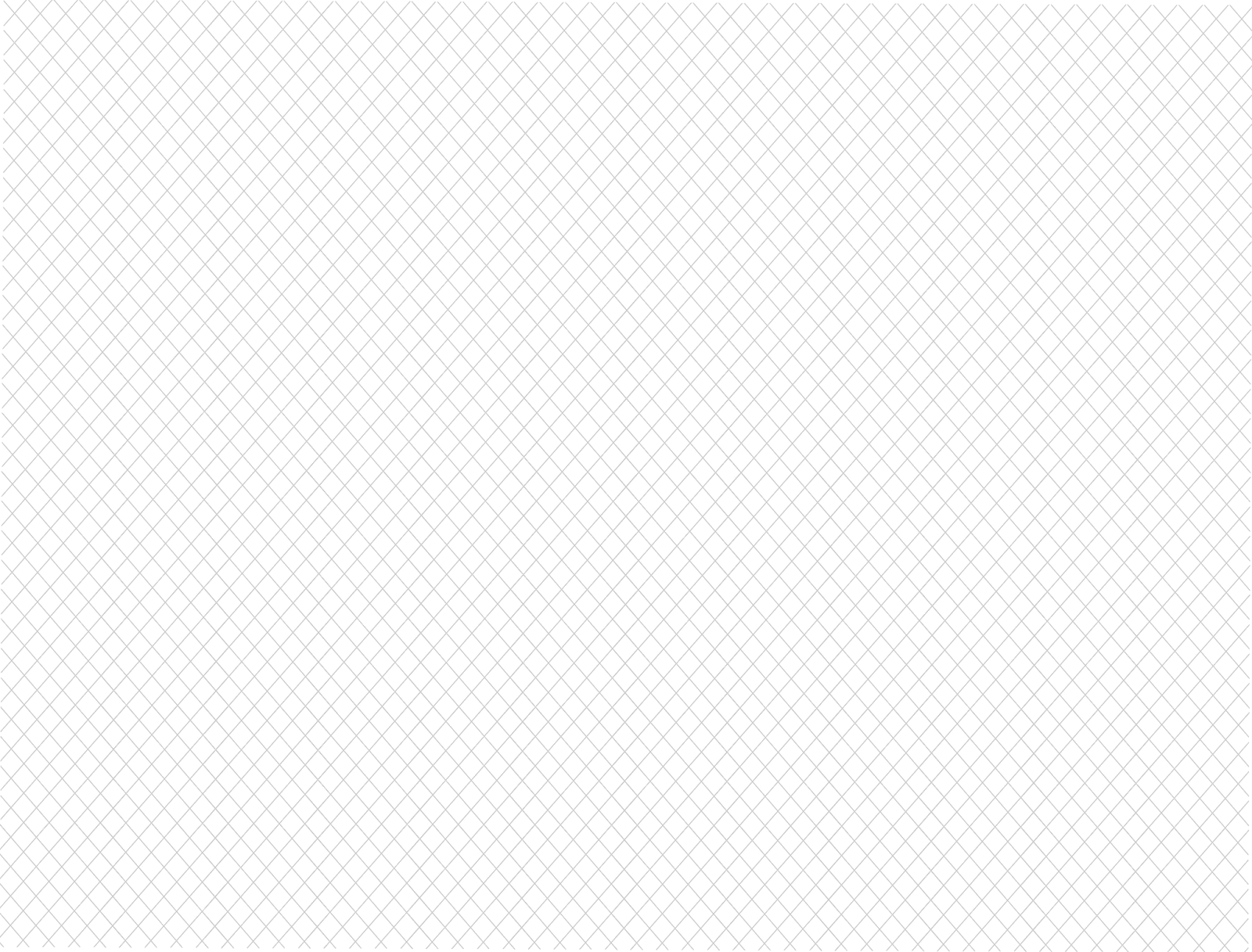Olhar branco sobre um olhar indígena: os vídeos de realizadores indígenas do projeto Vídeo nas Aldeias
Clarisse Alvarenga*
O que se segue são anotações que fiz, em abril deste ano, quando estive no Rio de Janeiro para acompanhar a primeira retrospectiva[1] do projeto Vídeo nas Aldeias, intitulada “Um Olhar Indígena”. Antes de passar a tais observações é preciso dizer que o projeto em questão desenvolve um trabalho de vídeo com índios brasileiros, iniciado em 1987. Hoje conta com um acervo de cerca de 50 filmes. Em princípio, a proposta era utilizar o vídeo como forma de retrabalhar questões relativas à identidade dos povos indígenas, a partir do contato inexorável com o homem branco e suas técnicas, bem como do contato dos povos indígenas entre si. A partir de 1998, o projeto toma um novo rumo ao investir na capacitação de realizadores indígenas, que respondem pelos filmes mais recentes.
Lendo os textos críticos agrupados no catálogo da retrospectiva percebe-se que existe quase um consenso no sentido de que os filmes feitos pelos índios, sobre a cultura deles, mostra de forma bastante próxima e com certa intimidade o cotidiano de cada um dos grupos, diferentemente da estilística predominante até então no mesmo projeto, mais centrada no registro de festas, rituais, do contato dos índios com sua imagem e com outros povos. O olhar indígena sobre si mesmo seria, portanto, um olhar menos impostado, nada burocrático, cheio de tempos de descansos e risos, traços que o distinguem do olhar documentarista mais clássico do cineasta branco sobre eles, predominante até que os índios começassem a produzir suas próprias imagens.
Não pretendo me deter aqui em uma análise crítica demasiado profunda dessa produção, apesar de acreditar que isso seria bastante importante de ser feito[2]. Quero chamar atenção para o estado atual do olhar branco sobre esse olhar indígena. Para tanto, conto uma cena que vi transcorrer em um dos contatos entre o público branco e os realizadores indígenas, durante a retrospectiva. Em geral, esse contato entre cineastas e público é pouco prestigiado, mas considero-o nesse caso específico um espaço interessante para que possamos sondar algumas questões.
A primeira seção aberta foi justamente no dia 19 de abril, Dia do Índio. Estávamos assistindo a filmes feitos por Divino Tserewahú, Xavante da Aldeia de Sangradouro, no Mato Grosso, que configura entre os realizadores indígenas do projeto mais arraigados dentro de uma perspectiva clássica de documentação. Seus filmes, tal como os filmes feitos pelos documentaristas brancos, apresentam basicamente registros de festas e rituais e sofrem um grande controle por parte dos anciãos de sua aldeia.
No meio da projeção, entram na sala cerca de 30 crianças vindas de uma escola pública do Rio, em visitação ao Centro Cultural, provavelmente devido às comemorações do Dia do Índio. Era patente que as crianças não queriam assistir aquelas imagens. Atiravam coisas umas nas outras, faziam gozações.
Chamou minha atenção a forma como Divino apresentou o trabalho para o público – bastante mais desenvolto do que a maioria dos cineastas que já vi nessa mesma situação. Divino nos falava sobre o filme que lhe foi encomendado pela aldeia vizinha que atravessava problemas com a demarcação de suas terras. Teceu um histórico dessa questão naquela comunidade, falando sobre suas impressões a partir da realização do filme e acrescentou algumas informações sobre o tema a partir de um conteúdo com o qual havia tomado contato através da TV Senado.
Pois o professor, aquele mesmo que atirara um bando de meninos e meninas para dentro de uma sala escura sem que eles de fato quisessem fazê-lo, apresenta-se e diz que vai falar em nome das crianças que, segundo ele, haviam gostado muito do conteúdo do filme, apesar disso não ser algo muito claro. Ele disse que estamos acostumados a ver índios em desenhos animados e filmes americanos e que a figura de Divino destoa dessas imagens, pois estava vestido com camisa, calça e sapato. Em seguida, profere a seguinte pergunta: Divino, você é mesmo um índio?
Divino imediatamente responde que de fato é um índio, um índio Xavante, e que vive na aldeia de Sangradouro, há poucas centenas de quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Essa breve resposta é pontuada por risos e brincadeiras das crianças. O professor não se contém, chama atenção das crianças, e diz, de forma enfática, o seguinte: “Crianças, vocês não estão entendendo. Sabe quem está diante de vocês? Um índio.”
Interessante como a postura desse professor vai de um extremo a outro. Em um primeiro momento, desconfia de que Divino seja mesmo um “índio de verdade” devido a sua aparência de branco. Poucos instantes depois, ele próprio pede que as crianças façam silêncio porque estão de diante de um índio, uma figura importante que merece o respeito, o que elas não estariam entendendo, por isso a confusão na sala.
A impressão que tive, depois dessa e de uma série de outras intervenções dos brancos foi que as questões que colocavam para os índios: 1) Nada tinham a ver com os filmes e sim com a aparência física que os índios apresentavam ali naquele momento ou dentro do filme; 2) Não me pareceram em momento algum questões relevantes para os próprios índios; 3) Reiteravam uma série de estereótipos criados em torno da figura do índio, ora mitificando-os ora colocando em cheque o seu pertencimento a determinada etnia; 4) Acostumados a ver o índio como objeto exótico não conseguiam enxergá-los como cineastas, como produtores de imagens, nem sequer discutir essas imagens.
Ocorreu-me que talvez o público branco, ao se preocupar excessivamente com a assimilação ou não dos índios em relação a sua própria cultura ocidental, não estivesse conseguindo ver uma rica possibilidade de pensar a imagem do índio produzida por ele e como essa imagem se diferencia daquelas que nós próprios realizamos de nós mesmos ou deles, daí a importância dos filmes dentro do contexto tanto do cinema documentário brasileiro contemporâneo como no contexto dos filmes indigenistas.
Vamos aos filmes. No tempo das chuvas (2000), realizado na aldeia Ashaninka, constitui-se de uma seqüência de descrições das atividades do período do inverno. É possível identificar que cada uma dessas atividades é descrita de forma rigorosa: construção de canoa, colheita do murumuru e da palha do murumuru, colheita do cipó, colheita da mandioca, preparo da isca (tinguí) para pescar, pesca, preparo do peixe, cestaria, tecelagem da cusma (uma espécie de túnica), preparo da mandioca e da carne, preparo da caciuma (bebida alcoólica preparada à base de mandioca), festa.
Ao mesmo tempo em que são bastante minuciosas, as descrições não se restringem a uma determinada técnica de descrição pois são entrecortadas por piadas, momentos de descanso e intervalos, que fazem dessa mise-en-scènealgo singular. É visível que a familiaridade entre índios filmados e realizadores indígenas acaba gerando um outro tipo de pacto entre os índios, diferente do tipo de relação que os índios filmados estabelecem com os realizadores brancos, o que acarreta mudanças no tipo de imagem produzida.
Uma seqüência desse filme em especial nos traz uma mostra de como pode se dar esse encontro entre realizadores indígenas e índios da aldeia, numa situação de tomada. Duas índias (uma delas com um bebê) saem para colher palha de murumuru, que será usada para fazer cesto e abano para o fogão, e cipó para fazer vassoura, cesto e peneira. Os índios que filmam conversam com os índios filmados, enquanto esses colhem a palha. Podemos escutar o diálogo, bem como encenações diretas para a câmera, em que uma das índias olha para a câmera e ri. À certa altura, as duas assentam no chão e conversam entre elas sobre o murumuru. Até que a índia que carrega o bebê começa a rir, pois percebe que a câmera poderia estar captando-a num ângulo que revelaria sua intimidade. A sua companheira diz a ela que isso não seria importante já é o seu próprio marido quem manipula a câmera. Ou seja, estariam elas pegas em uma situação de intimidade real, não em uma situação de intimidade forjada, como costuma acontecer nos filmes documentais brancos mais contemporâneos.
Mais adiante, as duas tentam arrancar um pedaço de cipó de uma árvore. A índia que carrega o bebê diz não ter coragem de puxar porque está com medo do cipó cair e machucar a criança. Surge uma solução: um dos dois índios que filmavam deixa sua condição de cineasta e se coloca de frente para a câmera com o objetivo de executar a tarefa que a mulher não conseguira. Nessa tomada, o índio que passa a sustentar a câmera acompanha o balanço do cinegrafista no cipó e, nesse movimento acaba pegando também as duas índias e o bebê. A impressão que se tem é que essa cena contém a potência de uma situação de tomada, em que a câmera se abre realmente para o real, para o mundo que transcorre em sua frente, captando mesmo essa interrelação entre as pessoas que filmam, as pessoas filmadas no momento que surge uma situação (de filmagem) que acaba envolvendo a todos, no presente, e ativando um novo espaço (fílmico) de relação entre eles.
Percebemos que a tentativa de destacar o cipó não é uma mera brincadeira entre os índios que filmam, já que existe a preocupação de descrever toda a seqüência que vai da busca pelo murumuru, o cipó e a cestaria na aldeia. Entretanto, a preocupação de descrever não impede que se crie uma outra maneira de usar a câmera entre eles, que envolve índios que filmam e índios filmados.
Shomõtsi (2001) apresenta a atuação videográfica de Valdete, um Ahaninka que retrata seu tio, que vive sozinho (sem uma mulher) com os filhos em uma região afastada. O tio de Valdete é acompanhado por ele em seu cotidiano, durante uma viagem à cidade com a intenção de buscar aposentadoria.
Chegando à cidade, acabam tendo que improvisar – diríamos nós – um acampamento na beira do rio para esperar o dinheiro da aposentadoria, que está atrasado. A espera, que é real e presente, acaba forçando uma mudança de planos, que se desenrola em tempo mais lento, com a qual tanto os personagens do filme, como o próprio realizador e – porque não nós, espectadores? – passamos a conviver.
Ao conseguir o dinheiro retornam todos à aldeia. Antes disso, Shomõtsi freqüenta o comércio da pequena cidade ribeirinha e gasta a aposentadoria em um piscar de olhos, comprando itens em um armazém. Comenta para a câmera que o dinheiro tão esperado foi embora rápido.
O filme, que não traz ranço algum de critica social apesar disso estar presente de forma indireta nas imagens, inicia-se e termina com narrações em off de Valdete. No início ele nos apresenta o tio, dizendo que Shomõtsi é o nome de um passarinho que constrói seu ninho distante do mundo. Ao final, ouvimos ele dizer também em off que está feliz de terminar mais um filme e voltar para casa. A narração evidencia uma relação bastante direta, próxima, de Valdete com o personagem e com o filme que ele está fazendo, uma maneira singular de fazer uso das narrações, mais usadas nos documentários brancos brasileiros para gerar um distanciamento em relação ao assunto tratado.
Em relação a ambos os filmes, não podemos deixar de observar o fato da edição ser atribuída a Mari Corrêa, diretora do Vídeo nas Aldeias, que se formou e trabalhou como instrutora nos Ateliers Varan[3], na França. Baseado no Cinema Direto, a proposta da Varan prevê um engajamento do cineasta nas questões vivenciadas pelos povos que realizam os filmes. É importante ter em mente que tanto aquilo que se mostra em termos de relação entre índios filmados e índios que filmam, em No tempo das chuvas, como a temporalidade de Shomotsi, são questões que foram, no mínimo, retrabalhadas pela editora ao relacionar as imagens feitas pelos índios.
Por isso nos filmes dos realizadores indígenas do projeto Vídeo nas Aldeias não temos um olhar puro dos índios sobre si mesmos, mas um olhar deles a partir da atuação de brancos, favorecido pela técnica do Cinema Direto. Não temos também como esboçar um olhar unicamente branco sobre essas imagens, porque corremos o risco de apenas reforçar as nossas categorias pré-existentes.
Enfim, o que eu gostaria de sugerir seria um olhar mais mestiço para a estética dessas imagens indígenas para além dos nossos estereótipos em relação à aparência física do índio, seu grau de assimilação em relação à cultura branca ou mesmo além das questões de gênero ou de reprodução de técnicas cinematográficas e também para além de uma demanda nossa de pureza em relação à manifestação videográfica indígena. Acredito que esse esforço de entendimento possa inspirar seja um cinema ocidental ou uma imagética indígena, a partir de um contato menos previsível (sem categorias predefinidas) e desgastado (porque cheio de clichês) com o mundo.
*Clarisse Alvarenga é mestranda em Multimeios. Desenvolve a pesquisa “Vídeo e experimentação social: um estudo sobre o vídeo comunitário contemporâneo no Brasil” (título de trabalho).
[1] A retrospectiva aconteceu de 20 a 25 de abril, no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro. Para a ocasião foi editado um catálogo com textos críticos assinados pelos diretores do projeto (Vincent Carelli e Mari Corrêa), pesquisadores, críticos de cinema e realizadores indígenas.
[2] Sugiro a leitura do elucidativo artigo de Evelyn Schuler, publicado na Revista Sexta-Feira, São Paulo: Editora 34, nº2, ano 2, abr. 1998, p. 32-41, e um segundo artigo que avança nas questões apresentadas por Schuler, desta vez de Mateus Araújo Silva, publicado na revista Devires, Belo Horizonte: Fafich-UFMG, nºO, dezembro de 1999, p. 27-39. Bem como o artigo de Ruben Queiroz Caixeta, na revista Geraes, Belo Horizonte: Departamento de Comunicação Social-UFMG, nº 49, 1998, p.44-49.
[3] “Em 1987, Jacques d´Arthuys, adido cultural francês em Maputo, contata os cineastas Jean Rouch, Jean-Luc Godard e Ruy Guerra para fazerem filmes sobre a guerra pela independência de Moçambique. Apenas Rouch conclui o trabalho propondo um workshop que permitisse a moçambicanos filmar sua própria realidade. Em 1981, surge, baseado nessa experiência, o projeto Ateliers Varan (…) Algumas linhas que definem o estilo Varan [baseado no Cinema Direto] são: dirigir não é apenas uma questão de inteligência, artesanato, estética ou técnica, mas também de ética; os realizadores não são observadores distantes, mas se engajam no meio em que estão filmando, respeitando as pessoas filmadas; a curiosidade se expressa pela arte de ouvir, e o processo está sempre ajustando o filme à realidade.” In: catálogo 13º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, 2002, p. 90.